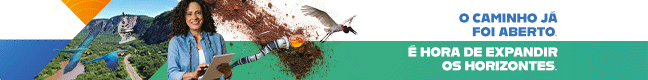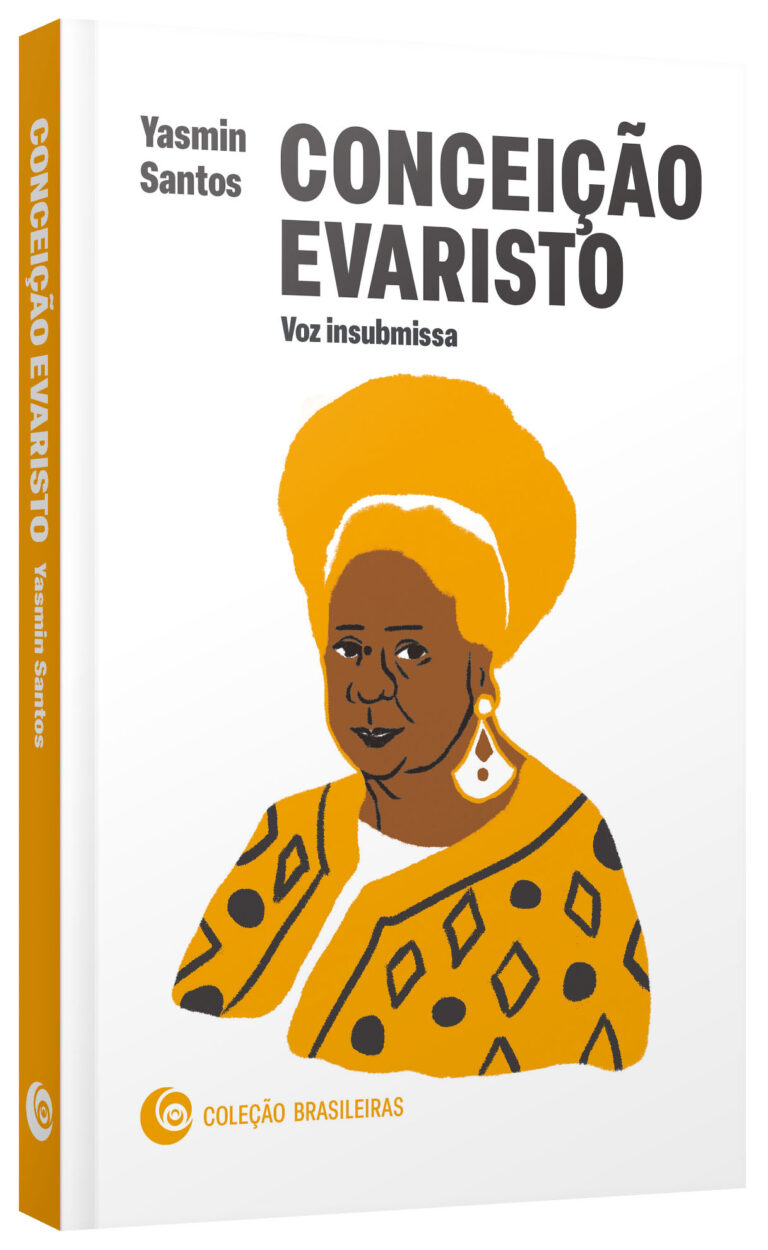Conceição Evaristo , uma das vozes mais importantes da literatura contemporânea brasileira, ganha sua primeira biografia: Conceição Evaristo: Voz Insubmissa . Escrito pela jornalista Yasmin Santos e publicado pela Editora Rosa dos Tempos , o livro combina ensaio e reportagem para reconstituir a trajetória da autora, celebrada por obras marcantes como Ponciá Vicêncio e Olhos d’Água .
Reconhecida por sua escrita singular, definida pela “ escrevivência ” – uma fusão entre vivências pessoais e ficção –, Conceição nasceu em 1946 na comunidade do Pindura Saia, em Belo Horizonte. Criada em um lar humilde, foi incentivada desde cedo por sua mãe, Dona Joana, a valorizar a leitura e a educação, experiências que moldaram sua perspectiva crítica e sensível. Essa combinação de realidade e imaginação tornou-se a essência de sua obra.
Ao se mudar para o Rio de Janeiro, a autora aprofundou sua consciência política participando de movimentos como a Juventude Operária Católica e o ativismo negro. Sua trajetória como escritora e educadora reflete uma luta constante por desconstruir estereótipos sobre a mulher negra, promovendo narrativas que evidenciam a complexidade e a riqueza de suas histórias.
Leia abaixo o primeiro capítulo:
Conceição Evaristo: Voz Insubmissa (Editora Rosa dos Tempos)
Fios de Ferro
ESTOU LIGADA A CONCEIÇÃO EVARISTO pelo encantamento – estético, político, da ordem do mistério e do afeto. Aproximo-me dela há uma década, primeiro como leitora, depois como observadora, ouvinte, aluna. Estive nos mesmos debates e lançamentos de livros, festas literárias, desfiles em escola de samba, passeatas políticas. Até finalmente ser recebida em sua casa, eu a acompanhei a distância durante dois anos, ainda que ela tivesse consciência deste projeto. Talvez isso tenha me permitido a audácia de confrontá-la com os segredos que guardam sua intimidade. Ainda nem completei 30 anos e escrevo estas linhas sobre uma senhora que se aproxima da casa dos 80. Conceição tem idade para ser minha avó, minha mãe, minha irmã e minha filha neste nosso tempo espiralar.
Sou da geração que colhe os frutos das sementes plantadas ainda em solo árido pela ancestral Carolina Maria de Jesus; Conceição Evaristo cuidou da flor ainda em botão, banhou-a com água fresca e adubou sua terra. Talvez se possa pensar neste ensaio no que tem de tentativa, para sempre incompleta, de fotografar a imperfeita multiplicidade de Conceição – e esse barro invisível que nos une e nos molda à sua maneira.
Quando a vi pela primeira vez, era primeiro de junho de 2019. Em carne, lágrimas e osso. Como o fluxo de um rio, Conceição chegava de forma sorrateira, num passo lento, mas constante. Estava com os cachos grisalhos soltos na altura da nuca, um macacão saruel longo num tom amarronzado de rosa sob um quimono amarelo com estampa floral. Na orelha esquerda, pendia um brinco de resina branco com a comprida gota, que contrastava com o pequenino acessório do lado direito, um ponto de luz. Ao ser apresentada pela professora Fernanda Felisberto, subiu ao palco do auditório do MAR (Museu de Arte do Rio) apoiando o caminhar nos braços de Ludmilla Lis, professora e amiga de longa data.
O encontro encerrou o módulo dedicado a Conceição no seminário sobre mulheres nas artes, primeiro evento do tipo organizado pela instituição e que também se debruçou sobre o trabalho das artistas Anna Bella Geiger e Anna Maria Maiolino. As três homenageadas, unidas pelo viés político de suas obras, se distinguem no percurso artístico. Dentre elas, Conceição era a única negra.
Essa mulher que escreve desde a infância só começou a publicar quando o circuito de editoras negras independentes se fortaleceu. Estreou na década de 1990, ao publicar alguns poemas e contos nos Cadernos negros, do coletivo Quilombhoje. Só aos 57 anos lançou seu primeiro livro, Ponciá Vicêncio (2003). Já havia chegado à terceira idade quando o restante de sua obra veio a público: Becos da memória (2006), Poemas da recordação e outros movimentos (2008), Insubmissas lágrimas de mulheres (2011), Olhos d’água (2014), Histórias de leves enganos e parecenças (2016), Canção para ninar menino grande (2018) e Macabéa: Flor de Mulungu (2023). A partir do fim da década de 2010, passou a ser vista como uma das mais influentes literatas do movimento pós-modernista no Brasil. Em 2022, tomou posse como titular da prestigiosa Cátedra Olavo Setubal de Arte, Cultura e Ciência da Universidade de São Paulo. Foi eleita imortal pela Academia Mineira de Letras, em 2024, e pela recente Academia Brasileira de Cultura, criada em 2021.
Doutora em Literatura Comparada, inaugurou, com recursos próprios, um espaço que pretende ser um ponto de referência para pesquisadores de literatura negro-brasileira, a Casa Escrevivência. O nome não é trivial: retoma o conceito, concebido por ela, de um método de criação marcadamente afrodiaspórico. O reconhecimento de Conceição não é só da crítica, como também do público, que a trata como uma espécie de popstar. Por onde passa, arrasta multidões; seu catálogo se aproxima da marca de um milhão de exemplares vendidos e foi traduzido para diversas línguas, como árabe, eslovaco, sueco, espanhol, inglês, francês e italiano. Não há exagero em afirmar que ela é uma das responsáveis pela devida atenção que o mercado editorial brasileiro passou a dar à autoria negra. Todas nós somos, direta ou indiretamente, tributárias de suas águas.
Aberto ao público geral, o evento no MAR fez com que o auditório do museu se pintasse com novas tintas, com assentos tomados por gente de todas as idades e origens, sobretudo mulheres negras. Eu era e sou uma delas. Ainda me vejo naquele mesmo auditório diante de algo que não sei nomear. Trazia debaixo do braço as anotações do seminário e um exemplar surrado de Olhos d’água, livro passado de mão em mão, dividido com amigas-irmãs que, por falta de dinheiro ou desencanto pela literatura brasileira, dividiram aquelas páginas comigo. É feitiço que afasta o banzo. Abracei aquelas páginas como se ainda pudesse abraçar a avó que perdi aos 12 anos, como se elas, e só elas, pudessem calar minha solidão.
EM 1992, NASCEM duas mulheres importantíssimas em nossa – minha e de Conceição – formação: Joana Josefina Evaristo, sua mãe, e Alayde dos Santos, minha avó. Lavadeiras, as duas nasceram 34 anos após a assinatura da Lei Áurea. Joana, nas roças de Minas Gerais; Alayde, nas do Espírito Santo. Permitam-me primeiro apresentar a minha avó para que entendam do que sou constituída e como a minha história, e a de tantas meninas negras por aí, se une a de Conceição. Este livro é também sobre a nossa escrevivência.
A Fazenda das Flores, onde minha avó trabalhou durante a infância, exibia uma antiga senzala. Ainda menina, foi concedido a ela a benesse de estudar com os filhos dos patrões, mas mal se sentava na carteira e já ouvia gritarem seu nome na Casa-Grande – o conhecimento torna uma criança inadequada para a escravidão. Alayde nunca aprendeu a ler, escrevia apenas o próprio nome e, aos 88 anos, ainda buscava na memória uma cantiga sobre o abecedário. Criança, tinha hábitos de gente grande: começou a fumar aos seis ou oito anos e só parou perto dos 70, após contrair um enfisema pulmonar. Gostava de tomar banho de rio. Sentia a correnteza puxando seu corpo e apoiava os braços em um tronco de árvore. Sentia-se em paz. Teve quase nenhum contato com a mãe, que adoeceu e morreu logo depois do parto. Do pai, sabia pouco. Nasceu tão pequena que cabia em uma caixa de sapato. Foi criada por um tio, indígena não aldeado, que usava a caixinha para transportar a sobrinha de casa até a lavoura. Enquanto trabalhava, ficava de olho na bebê. Rogava aos céus que a criança não chorasse, que não atrapalhasse a lida. A mata ninava o sono de Alayde. O leite materno era dado a ela pelas tetas de uma cabra.
Em casa, o tio passava os olhos na menina enquanto fumava um cachimbo. Cultivou cabelos longos, na altura da cintura, por toda a juventude. Seus fios eram densos, lisos, com uma curvatura levemente ondulada. A pele marrom, de tom avermelhado, marcava sua ascendência tanto indígena como africana. Contava histórias de uma avó escravizada, parteira da região e que lhe ensinou o valor da liberdade. As tarefas domésticas foram sua forma de sustento durante a vida inteira: lavava, passava, costurava, limpava; muitas vezes, em troca de alimento ou de um teto para morar. Na roça, devia eterna gratidão aos patrões, de quem sabia histórias terríveis – como quando a sinhá enfiou uma colher de óleo fervente na boca de um recém-nascido; matava crianças mestiças para se vingar do adultério do marido branco.
Alayde deixou a fazenda perto da idade adulta, quando se casou pela primeira vez e deu à luz três filhos, dos quais, ao longo dos anos, foi apartada pela morte. Despediu-se da prole silenciosa e sutilmente enquanto via o próprio corpo ser tomado por hematomas: com socos e chutes, o marido alcoólatra descontava os desgostos da vida na esposa. Foi também para pôr um fim na relação que migrou para o Rio de Janeiro com o único filho sobrevivente, Manoel. Na Baixada Fluminense, conheceu e se casou informalmente com Arlindo Moreira, migrante oriundo das roças de Minas Gerais. O casal teve quatro filhos – Ney, Leandro, Maria Regina e Maria Eugênia – e se inscreveu em um programa do governo que subsidiaria parte da compra de uma casa no conjunto habitacional Jardim Palmares, na Zona Oeste da capital. A região, ainda rural, era chamada de sertão carioca.
Mudaram-se para o bairro em 1967, quando minha mãe, a caçula, tinha dois anos. A oferta de ônibus era quase nula, e meu avô, que trabalhava como contínuo no centro da cidade, caminhava meia hora até conseguir uma kombi que o deixasse na estação de trem mais próxima. Na casa nova, Alayde e Arlindo cuidavam para que os filhos não soubessem o que era a fome. Todos frequentaram escolas públicas e concluíram o ensino médio, um orgulho que não cabia no peito daquele casal de analfabetos que, durante toda a vida, se orgulhava de expor na estante de casa as enciclopédias e os livros escolares dos filhos.
Meu tio Ney foi além: num intervalo de três décadas, formou-se técnico em Eletrônica, licenciou-se em História, é mestre e doutor na área. Sua primeira aluna foi minha mãe, Maria Eugênia, a quem ensinava as tarefas da escola e com quem tomou gosto pelo magistério. Em Campo Grande, bairro vizinho, criou um cursinho popular no qual deu aula para mim, meu irmão e a maioria dos meus primos.
Meus pais se conheceram pelas ruas de Jardim Palmares. Trajetórias semelhantes e distintas. Manoel Gomes Pinto e Conceição do Couto Pinto, meus avós paternos, viviam na Vila Ieda, em Campo Grande, onde criaram seus cinco filhos – Adelson, Ademir, Adilson, Almir e Aurelina.
No fim da década de 1970, Conceição faleceu por insuficiência cardíaca. Adilson, meu pai, muito apegado à mãe e então com 21 anos, não suportou a perda. Mudou-se para Jardim Palmares e passou a morar na casa de Diamantino, tio paterno, que era casado com Maria de Lourdes. O contato diário com os primos fez com que Adilson crescesse com um senso ampliado de família. Aquele quintal com galinhas, patos e gansos também era morada de espíritos encantados, que vinham ao barracão sob o comando de Lourdes. Nos dias de gira, Adilson louvava os erês e os pretos velhos, a quem sempre destinava oferendas. Esse novo seio familiar foi o que o sustentou quando o coração de Seu Mané, como meu avô era conhecido, parou de bater durante o sono. Meu pai ficou órfão antes de completar 30 anos.
Enquanto Adilson começou a trabalhar no centro da cidade aos 14 anos, minha mãe, a caçula, usufruía do privilégio, único entre os irmãos, de só começar a trabalhar formalmente depois de concluir o ensino médio. Meus avós paternos tinham profunda admiração por Getúlio Vargas. Meu pai, que nasceu no ano seguinte ao suicídio do presidente, tinha horror à figura dele. O Pai dos Pobres não foi capaz de lhes afastar da pobreza. A água que meu pai hoje insiste em desperdiçar compensa a infância sem água encanada, carregando lata de água na cabeça. Coube a ele admirar outro ditador: João Figueiredo. Tenho minhas dúvidas se pelo governo em si ou se pelo momento familiar, em que a fome parecia assombrar cada vez menos.
Adilson e Maria Eugênia se casaram em 1989 e foram morar na Vila Ieda, no quintal, até conseguirem comprar a casa própria com o FGTS – trabalhavam como auxiliares administrativos, escondidos nos almoxarifados das empresas, ou como vigilantes em postos de saúde. Em meados dos anos 1990, encontraram uma casa de dois quartos, na rua perpendicular à de meus avós maternos, e retornaram ao bairro onde tudo começou. Cresci nesse pequeno perímetro, às margens da Avenida Brasil.
Sou um ponto fora da curva na minha família. Em vez das escolas públicas que meu irmão frequentou, estudei em colégios particulares. As mensalidades eram custeadas pelos meus padrinhos, Marilza e Paulo César, uma bacharel em Direito e um gari, que se casaram próximo aos 40 anos e optaram por não ter filhos. Até hoje me pego pensando no que fez aquele casal abrir mão de parte considerável do seu ordenado em prol do meu ensino. As respostas estão nas páginas do romance Água de barrela, em que Eliana Alves Cruz narra a história de uma família negra que, nas mais adversas condições, tomou a educação como um projeto familiar. Todo bimestre levava o meu boletim para os meus padrinhos. As notas boas compunham o almoço de domingo – um rito que me ensinava o ideal de coletividade. Àquela mesa, celebramos, com cerveja, pagode e churrasco, a esperança.
ESCREVO DESDE QUE me entendo por gente. Na infância, minha família via com grande admiração e certo estranhamento esse apreço pela escrita. Meus pais bem sabiam como me exibir como troféu, mas podia ver no fundo de seus olhos o medo de que estivessem me nutrindo com sonhos demais. Nunca pediram que eu seguisse nenhuma profissão, apenas que eu estudasse. Eu me lembro de minha mãe me pegando pelo braço e dizendo, em tom de súplica, que eu devia ter ambição na vida. Durante grande parte da minha infância, quis ser professora de Matemática – sonho que só abandonei quando, nas equações aritméticas, as letras passaram a disputar espaço com os números. Lia tanto os meus poucos livros infantis que sabia declamar histórias de cor. Inventava narrativas engraçadas e bondosas com o mundo e, principalmente, comigo mesma. Eu me vejo encarnada em Maria-Nova, menina que guia o romance Becos da memória: para ela, decodificar o universo das palavras é uma forma de suportar o mundo; um modo de fugir e de se inserir no espaço. Minha adolescência, um período confuso por si só, foi assombrada por uma melancolia constante: a perda da minha avó em 10 de dezembro de 2010. Na antevéspera, havia sido o Dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, de quem minha avó era devota. Ao se dar conta da data, confidenciou à minha mãe o desejo de que a santa viesse buscá-la.
Quando partiu, fazia ainda pouco tempo que eu havia me tornado sua “enfermeirinha”, cuidava de seus remédios, aferia a pressão arterial, preparava a nebulização, servia sua janta, fazia seu café com leite. Passava as manhãs na escola, almoçava em casa, e os fins de tarde e noite eram todos da minha avó. Entre os meus nove e doze anos, era eu quem velava seu sono. Três anos que, para uma criança, definem uma vida.
“TALVEZ A MEMÓRIA SEJA um exercício poético”, Conceição Evaristo me disse quatro anos depois daquele primeiro encontro, no início de uma conversa que se estenderia por horas. Era 16 de novembro de 2023, uma quinta-feira. O anoitecer já havia abrandado a temperatura – que chegou a bater 40ºC na capital fluminense –, mas não espantava o calor. Conceição e eu tomamos o cuidado de nos manter na reta do ventilador enquanto falávamos e escutávamos uma à outra por videochamada. Eu, cá do Rio, e ela, lá de Maricá, na Grande Niterói.
“Não vou conseguir dar um depoimento, uma coisa seca sobre mim mesma”, ela me respondeu com olhos preocupados, tendo o cuidado de me alertar antes de lançar um feitiço. “Falar da minha origem, da minha família, da favela, coisas que inspiram minha criação literária, faz com que eu navegue pela ficção. Trazer à memória é fazer ficção.” Respondi que a autoficção é inevitável. Ela, aliviada, sorriu e ajeitou os óculos: “Está certo. Então posso ficar bem à vontade. Vamos do princípio. Quero te contar uma história que a minha mãe me contava.”
JOANA JOSEFINA TINHA um ferro à brasa sob as mãos. Já era tarde da noite na Favela Pindura Saia, em Belo Horizonte. O calor, provocado pelo clima e pela gravidez avançada, fazia brotar gotas de suor por seu corpo. Passava as roupas, asseadas durante o dia, com esmero. Não havia nem um resquício sequer de sangue naquelas calças ou minúsculas toalhas enviadas pelas madames. Joana tampouco era mãe de primeira viagem; Maria Inês havia se despedido de seu ventre há exatos nove meses. Por isso, quando sentiu as primeiras dores, no virar da madrugada de 29 de novembro de 1946, soube a exata hora de partir rumo à maternidade. Chovia muito. Da casa, no alto do morro, via as águas seguirem seu curso como numa enxurrada. Joana era toda medo: a bebê provavelmente morreria se teimasse em nascer, só, no breu da favela. Ela bateu à porta da vizinha, sua irmã mais velha, Maria Filomena da Silva, e lhe pediu que passasse os olhos em Maria Inês. Dali à próxima hora, seguiria a pé, sozinha, até a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, onde Maria da Conceição Evaristo viria ao mundo. Sexo: Feminino. Cor: Parda. Era o que trazia a certidão de nascimento.
A bebê foi batizada, como mandam os ritos católicos, em 8 de dezembro de 1946, dia em que se celebra Nossa Senhora da Imaculada Conceição – santa sincretizada com as águas que, a depender da localidade, podem ser tanto de Oxum como de Iemanjá.
JOANA JOSEFINO EVARISTO nasceu no dia 23 de outubro de 1922, no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Serra do Cipó. Seus pais, Lidumira de Miranda Pimentel e Luiz Floriano, provavelmente foram filhos do “Ventre Livre”, lei promulgada em 1871, considerando livres os filhos de mulheres escravizadas nascidos desde então.3 O mais longe que se pode ir em sua linhagem termina em Saíta, sua avó materna; diziam ser “uma índia que alguém tinha apanhado a laço”. “Essa história de violação das mulheres indígenas”, comentou Conceição.4 Serra do Cipó está localizada perto de Pedro Leopoldo, cidade vizinha ao Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais. No tempo em que Joana era menina, Serra do Cipó era tudo roça. Quase todos os fazendeiros eram de mediana riqueza, havia um pequeno comércio e uma população muito pobre, marcada pelos efeitos ainda presentes da escravização. A casa onde Joana morava com os pais e os irmãos era de pau a pique. A cama era um jirau coberto por capim. Nunca se cobriam com cobertores, e sim tecidos que viam apenas estendidos no terreiro quando Lidumira trocava a lavagem e o tingimento do item por restos de fubá e açúcar, pé, orelha, rabo ou focinho de porco.
A única peça de roupa da menina era um camisolão com decote bordado em linha vermelha, presente da madrinha para seu batizado; de modo que, salvo em ocasiões especiais, as crianças andavam nuas pelo quintal. Nos primeiros sinais da puberdade, Joana e as irmãs se vestiam com as poucas saias rodadas de Lidumira, que, por serem tão grandes e largas, muitas vezes eram usadas como vestido.
“Eu penso que eu e meus irmãos fomos criados quase igual índio. Vivíamos nús até grandinhos, fomos catequizados por missionários”, rememorou Joana, décadas depois, em seu caderno. A igreja de Serra do Cipó era uma capelinha sem padre fixo, dependia de missionários que vez ou outra passavam por lá para celebrar batizados e casamentos; seu terreno era mais usado como uma escola, liderada por Filomena Ismene de Assunção, a dona Filó. Joana frequentou a escola por cerca de quatro meses, aprendendo o abecedário, a contar e a formar as primeiras sílabas, até a família se mudar para outra região. “O pouco que eu sei aprendi em casa com meus irmãos”, lembrou.
Contudo, é com carinho que a senhora-menina se lembra de quando a professora surgia na sala com um pequeno quadro permeado por bolas coloridas. A régua guiava a contagem dos alunos: um, dois, três, quatro… Joana mal conseguia ouvir o que dona Filó dizia de tão vidrada que ficava com as bolinhas. Cá consigo, se perguntava como era possível tamanha infinidade de cores.
MÃE SOLO, O ÚNICO apoio de Joana para criar suas quatro Marias – Inês, da Conceição (Preta), Angélica (Deca) e de Lourdes (Nui) – vinha de sua irmã, Maria Filomena, a Lia. Dos progenitores das meninas se sabe muito pouco, sumiam antes mesmo de saber da gravidez, memórias que a dor calada de dona Joana quis apagar.
José era o nome do pai de Conceição, registro mantido na memória que não consta em sua certidão de nascimento. O sobrenome foi esquecido, e, da única vez que a menina viu o avô paterno, guardou apenas o ofício: era um homem que consertava sombrinhas.
Conceição foi apelidada pela família de “brigadeira” por causa da profusão de confusões que arranjava na infância. Quando Joana pegava as crias se atracando, ameaçava cortar um pedaço de vara de pau. As crianças paravam até se desentenderem de novo, uma espiral que testava a paciência da mãe. Quando não tinha mais jeito, Conceição saía correndo rumo à casa de tia Lia. Da porta, Joana pedia aos berros que a filha voltasse para casa, ia apanhar junto às irmãs. “Eram uns tapinhas de nada, não era muita coisa, não, entende?”, recorda Conceição. “Só que a minha mãe não entrava na casa da minha tia. Era engraçado que elas tinham – e eu conservo isso delas – um cuidado muito grande em cada uma preservar a sua intimidade, o seu espaço.”
Tia Lia era casada com Antonio João da Silva, o tio Totó, viúvo de outros dois casamentos. Ela, lavadeira; ele, pedreiro. Não tiveram filhos, e a menor quantidade de bocas para alimentar lhes permitia uma vida de menor miséria: lá, sempre sobrava um pedaço de pão ou um bocado de farinha. O entra e sai de Conceição passou a indispor a intimidade de Joana e Filomena, e a tia lhe deu um ultimato. “Quando eu fizer tchetche ano”, respondeu a menina brigadeira, contraindo as sílabas do algarismo por conta de sua dislalia infantil, “eu vou pra sua casa e não vou sair mais”.
Até Conceição completar sete anos, muitas águas rolariam. Joana ganhou mais um sobrenome ao se casar com Aníbal Vitorino e, com ele, teve outros cinco filhos, todos homens: Ademir, Aldair (Cailo), Almir, Altair (Zinho) e Altamir (Tami). Ao todo, Joana tinha nove filhos para criar e alimentar. “Isso para mim foi muito doloroso na infância”, conta-me Conceição, “eu fui morar com a minha tia na certeza de que sobraria um prato de comida na casa da minha mãe. Seria uma boca a menos para ela alimentar”. Altair, irmão de Conceição, ria ao se lembrar das comidas que ela fazia passar por debaixo da cerca que dividia as duas casas: “Por ter uma condição de vida melhor, às vezes tinha lá um bolo e Conceição conseguia trazer um pouquinho pra gente.”
Não havia luxos no lar de Lia e Totó, mas o básico não faltava. Tinha café, almoço e jantar. Quando recebia seu salário mínimo, o tio ia ao centro da cidade e comprava carne para a semana inteira. No quintal do casal, havia ainda alguns porcos, e era uma fartura quando matavam um. Os pedaços eram cozidos e armazenados em potes cheios de banha para que pudessem durar meses. Essa era uma das poucas formas de conservar o alimento numa época em que geladeira era um artigo irreal – não havia sequer uma única casa no Pindura Saia que tivesse o eletrodoméstico nos idos dos anos 1950. A título de comparação, enquanto mais de 80% dos lares estadunidenses já contavam com um refrigerador cinco anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil só conseguiu atingir o mesmo percentual em 1997.
Morar com os tios deu à Conceição a oportunidade de se dedicar aos estudos. Tinha um quarto só seu, onde ficava quietinha, lendo e escrevendo – com o tempo, sua mesinha passou a acumular uma pequena pilha de diários e cadernos. As três irmãs de Conceição, no entanto, não tiveram escolha. Conheceram o trabalho doméstico muito novas. “Eu trabalhei em casas de família – quer dizer, todas as casas são de família, né?”, diz, com um sorriso irôinico. “Mas eu trabalhava em empregos domésticos em períodos curtos, já elas eram contínuas, dormiam no emprego.”
Mãe lavadeira, tia lavadeira, ambas eficientes em todos os ramos dos serviços domésticos. Cozinhar, arrumar, passar, cuidar de crianças. Também Conceição, desde menina, aprendeu a arte de cuidar do corpo do outro. Aos oito anos surgiu seu primeiro emprego doméstico, e, ao longo do tempo, outros foram acontecendo. Sua passagem pelas casas das patroas era alternada com outras atividades, como levar crianças vizinhas para a escola, já que ela levava os irmãos. O mesmo acontecia com as lições escolares. Ao assistir os meninos de sua casa, estendia a assistência às crianças da favela, o que lhe rendia também uns trocadinhos. Além disso, participava com Joana e Lia da lavagem, do apanhar e do entregar trouxas de roupas na casa das patroas. Trocava também horas de tarefas domésticas na casa de professores por aulas particulares, por maior atenção na escola e principalmente pela possibilidade de ganhar livros, sempre didáticos, para si e para seus irmãos e irmãs. Numa foto de 1973, Conceição posa de braços dados com a mãe Joana, à sua direita, e a tia Lia, à sua esquerda. Enquanto a jovem ostenta um frondoso black power, suas ancestrais guardam os cabelos por baixo do lenço. Olho demoradamente para o registro. É possível ver tanto nos traços de Conceição – rosto oval, olhos amendoados, nariz redondo e boca carnuda – como em sua postura, altiva e ressabiada, uma perfeita mistura de suas duas matriarcas.
JOANA ENSINOU À CONCEIÇÃO o valor da palavra; ensinamento este demarcado no poema intitulado “De mãe”: “e me ensinou, insisto, foi ela,/ a fazer da palavra artifício/ arte e ofício do meu canto,/ da minha fala.” Uma aposta que refletia um encantamento pessoal de Joana pelas letras e pelo universo ficcional. “Eu tinha muita vontade de aprender [a ler]”, rememora em seu diário, décadas depois de os filhos terem alcançado a maioridade. “E pensava, se Deus quiser eu ainda vou aprender a ler para eu ler muitas histórias.”
Mulher prenhe de dizeres, não se contentou em matricular os nove filhos nas escolas localizadas a poucos minutos de casa, a Augusto de Lima e a Antônio Carlos. Sabia-se que os colégios públicos localizados próximo às favelas tinham um ensino diferenciado para pior. Optou por atravessar o bairro rumo ao Jardim de Infância Bueno Brandão e ao Grupo Escolar Barão do Rio Branco, dedicado ao primário, a primeira metade do atual ensino fundamental; ambos eram conhecidos por serem as melhores escolas de Belo Horizonte. O trajeto entre a favela, localizada no hoje bairro de Cruzeiros, e os colégios, em Funcionários, bairro de classe média alta, levava mais de meia hora a pé.
O esmero em sempre acompanhar as crianças até a escola chamou a atenção de outras mães da favela, que passaram a lhe pedir que levasse os filhos para as escolas do entorno por uns trocados – “essas mães deviam pagar pouquinho, mas pagavam”, lembra Conceição. De segunda a sexta-feira, um apinhado de crianças, divididas em pares, desciam o morro de mãos dadas sob a condução de Joana Josefina.
Não tardou até lhe oferecerem uma vaga de servente na Bueno Brandão, sem precisar abrir mão do serviço de “condutora” que exercia. Agradecida ficou, mas preferiu negar a proposta. Se trabalhasse o dia inteiro na escola, precisaria deixar os filhos, principalmente as meninas, sozinhos em casa. Tinha medo de que sofressem violência sexual ou de que “se perdessem”, eufemismo da época para prostituição. Quando me narra o episódio, Conceição se pega pensando no que poderia ter acontecido de diferente. “Se ela tivesse aceitado, seria um emprego fixo. A gente seria pobre, mas não seríamos miseráveis igual a gente vivia”, diz. Conceição ainda não conseguia relacionar o temor da mãe a algo muito maior que dona Joana. Havia marcas indeléveis no corpo de suas ancestrais diretas. A rotina de tronco, açoite e estupro sustentava a escravização.
Foram as mãos lavadeiras de Joana, acostumada a riscar sóis ao chão, que guiaram os dedos de Conceição no exercício de copiar o próprio nome, as letras do alfabeto, as sílabas, os números, difíceis deveres de casa para crianças oriundas de famílias semianalfabetas. Foram as mãos de Joana, que folheavam revistas velhas, jornais e poucos livros recolhidos dos lixos e recebidos na casa das patroas, que aguçaram e mantiveram viva a curiosidade de Conceição para a leitura e a escrita. Mãos lavadeiras que pacientemente costuravam cadernos feitos com papéis de pão e que evidenciavam a riqueza do cuidado e a pobreza material dos Evaristo numa escola que recebia a classe média belorizontina.
A IMAGEM MATERNA É, provavelmente, o mais poderoso e universal dos arquétipos; é o primeiro ser feminino com o qual o ser humano tem contato. A relação com a mãe funda e modela nosso barro emocional, a terra da qual tiramos o molde de nossos relacionamentos. Dos papéis femininos, é provavelmente a maternidade que sofreu sempre maior pressão no sentido de manter uma imagem idealizada de mulher, relacionando-a ora à própria natureza, num determinismo redutor, ora ao sagrado ocidental, impondo-lhe o sobrenatural.11
Existem muitas formas de maternar. Há um par de séculos, exercer a maternidade constituía em relegar o cuidado da prole branca a amas de leite e babás negras que, supunha-se, eram capazes de amar mais os filhos de seus escravizadores do que os próprios. Muitas das personagens negras presentes em obras clássicas da literatura brasileira são exemplos de como a arte não deixou de reforçar estereótipos ocidentais de inferioridade e animalidade de nós, pessoas negras, afro-brasileiras. Figuras como a protagonista de A escrava Isaura (1875), de Bernardo Guimarães, ou as personagens Rita Baiana e Bertoleza de O cortiço (1890), de Aluísio Azevedo, não só carregam traços estereotipados, mas também trazem a marca da esterilidade. Nenhuma delas vive a experiência de ser mãe. “A minha pergunta tem sido esta: quando a literatura brasileira é incapaz de ficcionalizar a mulher negra como mãe, no nível do inconsciente, no nível do recalcado, não estaria a literatura negando uma matriz africana na sociedade brasileira?”, questiona Conceição.
A maternidade negra está na gênese de sua criação literária. Na contramão do cânone, Conceição restitui às mulheres negras o direito à maternidade, com todas suas complexidades e imperfeições – assim como no maternar de dona Joana, que, apesar da miséria material e da posição de suposta inferioridade ante às patroas, não abria mão de ir aos céus buscar pedaços de nuvens para adoçar a imaginação e as bocas famintas de seus nove filhos.
A imagem de sua mãe, que se agachava perto do rio e desenhava o sol para que ele existisse e as roupas secassem, deu à menina o sentido da invenção, da superação e da realidade transformada pelo risco em chão de areia. Depois, vieram as muitas mulheres, parentes e vizinhas, nas histórias da resistência, da dor, da alegria e da invenção: “Como ouvi conversas de mulheres!”, escreve. “Falar e ouvir entre nós era talvez a única defesa, o único remédio que possuíamos. Venho de uma família em que as mulheres, mesmo não estando totalmente livres de uma dominação machista, primeiro a dos patrões, depois a dos homens seus familiares, raramente se permitiam fragilizar.
Em Becos da memória, há uma profusão de vozes de mulheres-mães da favela. Vó Rita é a mãe velha, semelhante a Iemanjá, senhora de autoridade tipicamente maternal, que era obedecida e respeitada pela fala e pelas ações; que socorria os que eram abandonados e dissolvia atritos; aquela que transforma habilidade aprendida na experiência em solução improvisada; é dela a mão que, na falta de assistência pública, guia os partos na favela. Trágico é o destino de Tetê do Mané, mãe de Nazinha, que vende a filha na esperança de salvar a si, o filho doente e, na sua visão distorcida pela ignorância e miséria, a própria menina da pobreza. Já a situação de outra personagem – Custódia – denuncia a tensão de classe e a situação de gênero. Cheia de filhos, vivendo com o marido alcoólatra e a sogra que não tolerava novas crianças a agravar a miséria, é surrada pela sogra até abortar.
Em um só livro, Conceição constrói situações que revelam a complexidade da experiência materna dentro de uma realidade social precária, construindo retratos de conotação social, política e de gênero, afastando-se do padrão idealizado e enquadrando-se esteticamente na contemporaneidade. Um rosário de mulheres, que se irmanam numa compreensão profunda do que são, trocando experiência, afeto e proteção. Essas mulheres não têm a leveza ou a sacralidade das mães construídas pela imaginação branca e masculina; ao contrário, estão quase sempre envolvidas em lida, sangue e lágrimas, e, talvez por isso mesmo, conseguem partilhar força, ternura e experiência entre gerações.
A CHEGADA DO PADRASTO não conseguia suavizar o vazio paterno que rondava Conceição, de modo que dona Joana se tornou objeto de sua devoção. “Minha mãe se constituiu, para mim, como algo mais doce de minha infância. O que mais me importava era a sua felicidade”, escreveu Conceição em 2009. “Um misto de desespero, culpa e impotência me assaltava quando eu percebia os sofrimentos dela.”
Para lidar com uma vida costurada a fios de ferro, dona Joana chorava. De seus olhos escorriam rios caudalosos, águas correntezas que impediam que a filha identificasse a cor da íris de seus olhos. Chorava a fome, o frio, a solidão afetivo-sexual, o desespero e a desesperança. A filha se punha diante da mãe e tentava alcançar seus muitos mistérios. De que cor seriam aqueles olhos d’água?
“Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz”, escreve Conceição no conto inspirado duplamente em sua mãe – Joana, matriarca carnal, e Oxum, dona de seu Ori. “Minha mãe trazia, serenamente em si, águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era cor de olhos d’água. Águas de Mamãe Oxum! Rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de Mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas delas se misturarem às minhas.”
“como eu dizia, Mamãe, íntima de todas as dobras da vida, também se mostrou assustada com a brutalidade da chuva que viria agredir a terra. Fiquei observando os modos dela”, diz “Sabela”, novela de Conceição cuja personagem homônima encarna o corpo da mulher negra em diáspora.“Via pedaços de medo em sua face, mas que logo desapareciam e o rosto dela ganhava o ar tranquilo, de quem tem plena convivência com os profundos segredos da vida e da morte.”
Joana Josefina Evaristo Vitorino partiu em silêncio, preservando a intimidade de seus segredos, no dia 20 de outubro de 2021, às vésperas de completar 99 anos. Passou os últimos dias em casa, acompanhada de filhos e netos. Falar lhe custava muito, já não conseguia transformar sons em palavras, porém sempre mostrava lentamente o terço que trazia nas mãos. “Tenho os olhos d’água”, escreveu Conceição em novembro daquele ano para a revista literária Quatro Cinco Um, “entretanto bendigo a vida pelo tempo que nos permitiu tanto viver”. Conceição Evaristo ficou órfã aos quase 75 anos.
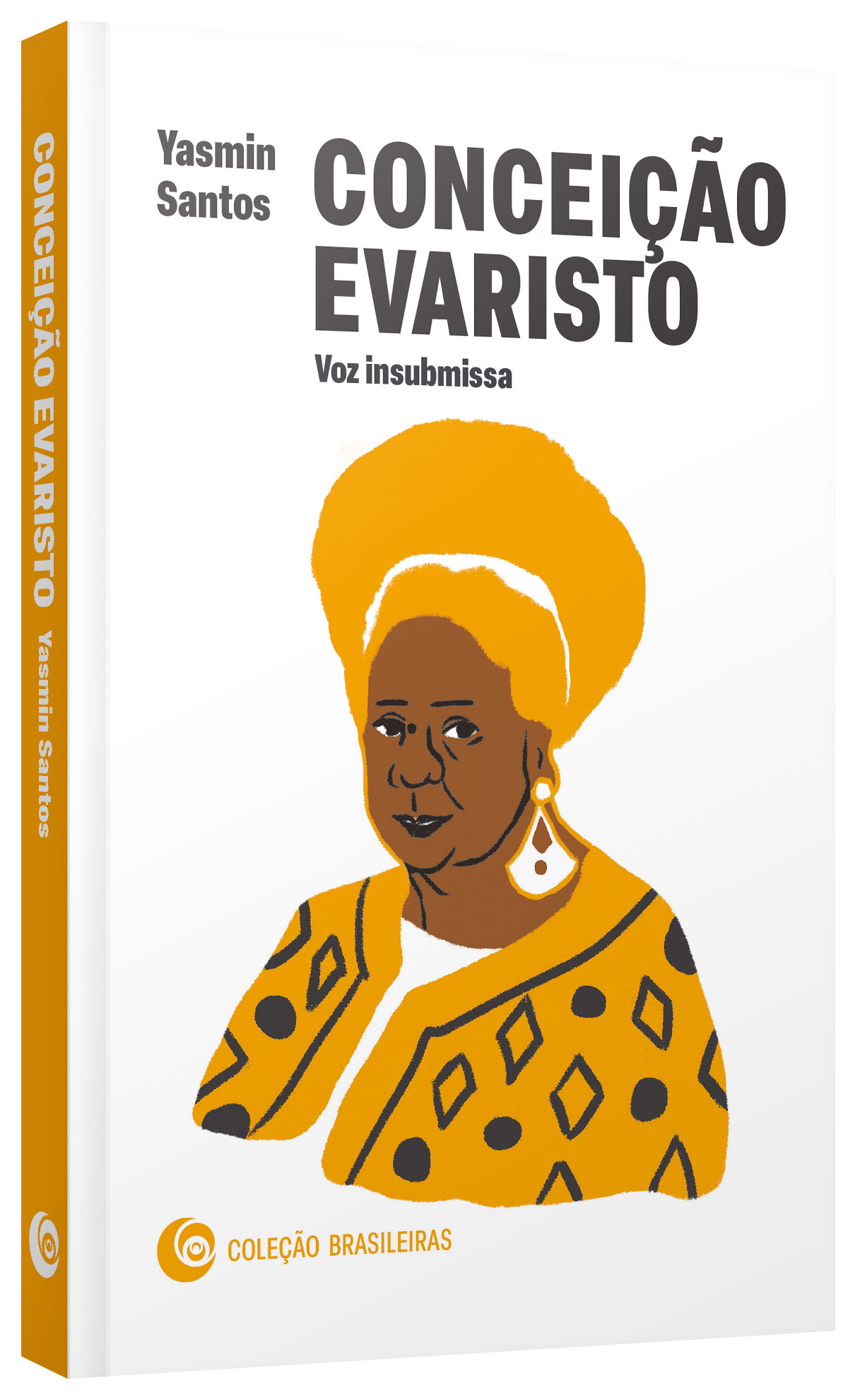
As melhores notícias sobre arte e cultura e o roteiro cultural da semana reunidos em um só lugar. Assine Bravo! indica e receba a newsletter às sextas-feiras Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter
Cadastro efetuado com sucesso!
Você receberá nossas newsletters às sextas-feiras.